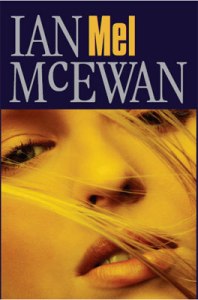Mel de Ian McEwan
Quem segue a obra de um escritor sabe que há uma relação proporcionalmente inversa entre as dificuldades que os livros nos causam (as dificuldades que, no fundo, constituem o prazer da leitura) e a quantidade de obras do mesmo autor que já lemos. Por outras palavras, quanto mais livros lemos de um mesmo autor, mais fácil é a compreensão, mais reconhecíveis os tiques estílisticos, mais familiares as imagens e, independentemente da extensão dos livros, mais rápida a leitura. Mas é também nesse momento que o prazer da descoberta, capaz de dar um cunho maior até a obras de transição dos autores, ao cessar, se arrisca a criar o efeito contrário: até um livro bem conseguido pode, a dada altura, parecer rotineiro. No caso, o autor deste texto está nessa fase, entre outros autores, com livros de Philip Roth, Roberto Bolaño e Haruki Murakami. E, para o caso mais importante neste momento, com Ian McEwan.
Não é que Mel, último livro de McEwan, como os restantes editado pela Gradiva, seja um livro menor. Não o é. Mantêm-se a escrita geométrica de McEwan, com a solidez de um edificio de betão ao mesmo tempo que com a maleabilidade da plasticina e a capacidade de tratar as convulsões sócio-políticas de um tempo, no caso os mesmos tumultuosos início dos anos 70 (choque petrolífero, greves de mineiros e outros sectores importantes da sociedade inglesa, constante sobressalto devido à Guerra Fria) que viram o autor publicar os seus primeiros textos. Mas, sobretudo depois de três socos seguidos como Expiação (2001), Sábado (2005) e A Praia de Chesil (2007; deixa-se Solar, 2010, de parte por ainda não ter sido lido), este novo tomo aparenta ser uma obra algo automática, complexa na escrita mas talvez um pouco óbvia na estrutura e que nunca atinge os zénites dos três livros anteriormente referidos.
Resta então, ao leitor como ao crítico, tirar os melhores aspectos da história de Serena Frome, jovem leitora voraz que é recrutada pelo MI5 para patrocinar um escritor de nome Tom Haley no âmbito de um programa governamental secreto para apoiar escritores de ideologia útil ao Ocidente. O primeiro, a forma como é demonstrada a importância da produção de ideias na Guerra Fria, a maneira como a visualização do Outro (a URSS e a RDA) tanto quanto o tratamento artístico que as próprias sociedades ocidentais se davam a si mesmas era uma preocupação das mais altas instâncias governamentais, não tão subalternas quanto possa parecer num jogo de zonas de influência e de equilibrios de poder. O segundo, o modo como, depois de colocar no discurso da protagonista a aversão ao pós-modernismo literário e ao autores que se auto-configuram como personagens, McEwan atribui a Tom Haley não apenas dois contos que publicou na sua coleção Entre os lençóis (1978) como o coloca em editoras e rodeado de pessoas de quem se via rodeado no tempo cronológico do livro, arriscando tanto a hipótese biográfica quanto o desmentir directo de uma das suas personagens. E, em terceiro o último lugar, no já habitual capítulo final em McEwan que, mais do que atar pontas, transfigura o que atrás se leu, lança uma questão relevante: até que ponto a doutrina do equilibrio de poderes, que garantiu a sobrevivência da Humanidade na segunda metade do século XX, não é também aplicável nas relações humanas podendo, em alguns contextos, tornar-se francamente fulcral?
Por tudo isto, Mel está longe de ser uma obra-prima, dentro ou fora da obra de Ian McEwan, mas em nenhum momento o prospectivo leitor dará o seu tempo por mal empregue.
Texto originalmente publicado no site Letra 1